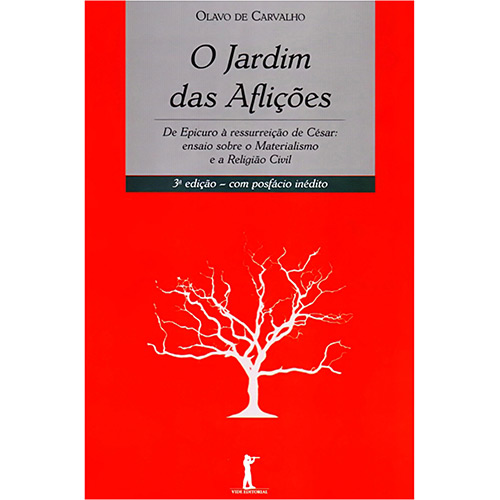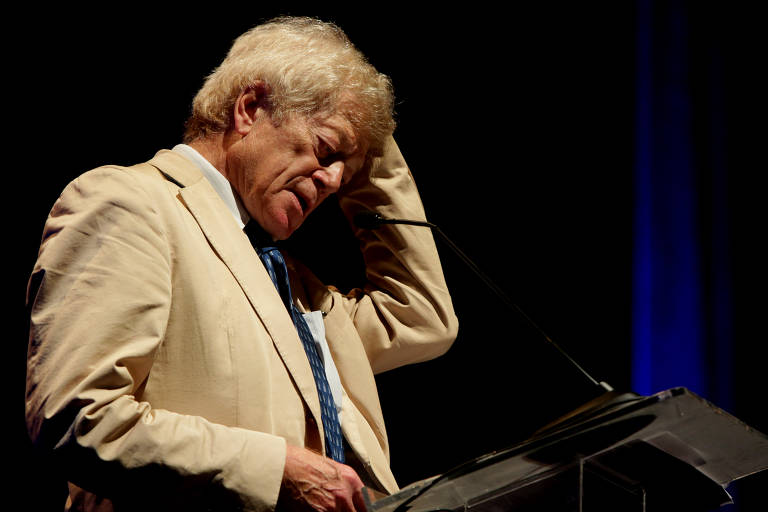Versão melhorada da palestra por mim proferida no dia 13 de Fevereiro de 2016, no Grupo de Estudos São Thomas More.
Boa tarde a todos! Agradeço a todos os que se dispuseram a tirar algumas horas deste sábado para virem cá me ouvir discorrer sobre o livro “O Jardim das Aflições”, do filósofo
Olavo de Carvalho. Agradeço também à coordenação do Grupo São Thomas More por ter-me dado esta oportunidade de estar aqui.
É um prazer imenso para quem segue o caminho da vida intelectual ter a oportunidade de falar de uma das obras mais importantes para a própria trajetória de estudos. E este é o meu caso em relação ao Jardim das Aflições. É um dos meus livros favoritos de todos, um dos que mais me marcaram e, provavelmente, um dos mais interessantes de todo o pensamento brasileiro, ombreando com algumas obras de Gilberto Freyre e Mário Ferreira dos Santos.

Dentre os livros do filósofo Olavo de Carvalho, é o que possui a forma literária mais elaborada. É, segundo o próprio autor, um “misto de memórias e ensaio filosófico, reportagem e panfleto político, metafísica, esoterismo e fait divers, religião comparada e etc.”. Essa riqueza de temas e de planos foi disposta numa forma harmônica que raramente se vê nas demais obras do autor, que quase sempre consistem em coletâneas de ensaios, uma vez que o livro tem claramente um começo, meio e fim. Nele também se observa um traço característico do estilo de Olavo de Carvalho: partir de um ponto pequeno para daí empreender uma investigação sobre temas imensamente maiores e isso demanda a abordagem de diversos assuntos necessários à elucidação do tema.
Outra coisa surpreendente em relação ao livro fora as condições em que ele foi escrito. O filósofo estava completamente desempregado, na miséria, vivendo num quitinete em um edifício tão degradado, tão ruim que era apelidado de “Favelão”. Se um livro tão bom pode ser gestado em condições tão adversas, é mais uma prova de que a vontade eo talento podem vencer as adversidades.
Uma observação que eu julgo fundamental que por ser muitas vezes ignorada torna-se a fonte de muitos mal-entendidos na interpretação deste livro e que por isso deve ser feita já é a de que essa obra é o começo de uma investigação sobre o tema, e não uma tomada taxativa de posição. Está isso já na página 26 desta nova edição promovida pela VIDE Editorial:
“…, devo advertir que as opiniões expressas no começo são apenas o começo; que aceitá-las ou rejeitá-las in limine é impedir-se de entender aonde levam; que o leitor, ao tomar posição pró ou contra logo nas primeiras páginas – ou pior ainda, ao fundá-la numa impressão de momento -, estará se enganando a si próprio, tomando este livro como expressão de opiniões prontas, quando ele é, como há de ver quem o leia até o fim, substancialmente, uma investigação; investigação que, do meio para diante, toma de fato um rumo bem diverso daquele que parecia anunciar no começo.”
O núcleo deste livro foi redigido numa noite de Março de 1990, após a conferência proferida por José Américo Motta Pessanha sobre Epicuro no ciclo de Ética promovido no MASP. Esse ciclo e outros promovidos por Adauto Novais não eram inocentes; tinham como . tinham como objetivo reformar a cultura brasileira pela propagação de novas crenças. A base para tal empreitada seria o resgate de uma “tradição materialista” na filosofia ocidental, que põe Epicuro, La Mettrie, Marquês de Sade e outros pensadores de quinta categoria até desembocar no marxismo no centro do pensamento ocidental e deslocava para a marginalidade todas as correntes espiritualistas, ainda que mais importantes.
A pretendida tradição, porém não existe, pois uma verdadeira tradição pressupõe uma continuidade ao longo do tempo por meio de uma entrega de um legado e isso simplesmente não existe no materialismo, que aparece ocasionalmente por motivos os mais variados (teses mecanicistas, cientificistas ou filosoficas), ao contrário da permanente e consistente tradição das correntes espiritualistas. Foi com tal espírito deformador da história da Filosofia que Pessanha organizou a famosa coleção Os Pensadores, que acabou por se tornar indispensável nos estudos filosóficos brasileiros.
Olavo passa a analisar a filosofia de Epicuro para entender porque ela foi eleita como indispensável para suscitar o debate ético no Brasil. Todavia, o que se viu foi um pensamento cosmológico caótico, no qual átomos e seres são instáveis; uma teodicéia que sustenta que os deuses são inócuos mas que, ao mesmo tempo, são o modelo supremo de bem e ideal de vida; uma ética que na verdade consiste numa psicologia prática, cujo objetivo não é descobrir a conduta correta, mas aplacar as angústias pessoais por meio de um constante evasionismo da realidade sofrida por meio da constante recordação dos fatos passados agradáveis e da conversação filosófica no jardim, conversa essa que não objetiva encontrar a verdade, mas sim acalmar-se e “ser feliz”. Mas o ensinamento oferecido é o de que só se pode escapar de vez do sofrimento por meio da morte, seguida de um absoluto esquecimento. Essa técnica, conhecida como Tetrapharmakon (o quádruplo remédio), assim chamada em alusão à descoberta de uma inscrição em pedra na Turquia de um texto epicúreo que determinava o seguinte caminho para “alcançar a felicidade”:
1) “Não há o que temer quanto aos deuses;
2) Não há necessidade de temer a morte;
3) A felicidade é possível;
4) Podemos escapar à dor”
Essa técnica é um wishful thinking radicalizado, elevado a regra de vida. É por ela que alguém pode aceitar a física de Epicuro.
Olavo percebeu um vínculo entre Epicuro e a Programação Neurolinguística (o que não significa, claro, que Milton Erickson ou Richard Bandler tenham estudado o filósofo do jardim), no que se refere à rejeição do conhecmento objetivo da realidade e na substituição desta por imagens fictícias melhoradas para dar a alguém uma sensação de superioridade e de poder.
Mas no epicurismo não consistia toda mundividência de Pessanha; fundido a ele estava o marxismo. Mas como uma doutrina ativista e preocupada com a práxis como a de Marx pode se conciliar com uma tão evasionista como a de Epicuro? Ora, Epicuro foi objeto da tese de doutoramento do jovem Marx. Embora ele tenha repudiado isso em sua filosofia mais madura, o vínculo entre eles deve ser buscado nas Teses sobre Feuerbach, precisamente na 11ª tese, que diz: ”Até hoje os filósofos se ocuparam em compreender o mundo, mas o que importa é transformá-lo”. Nela Marx mostra, como Epicuro, um desprezo pela inteligência teorética e substitui-la por uma auto-hipnose retórica direcionada para “reformar o mundo”; as ilusões coletivas, no marxismo, são superiores ao conhecimento pessoal.
Isso nos remete à história da conquista da inteligência teorética, que anda junta à história do desenvolvimento da consciência individual. Esse processo já se mostra em germe na tragédia grega, nasce com Sócrates, fortalece com o aperfeiçoamento da filosofia grega e é completado com o cristianismo. Essa libertação provocou, porém a reação dos nostálgicos da antiga religião greco-romana, de caráter público e coletivista. O conjunto dessas reações, nascidas também da profunda incompreensão dos pagãos em relação ao fenômeno cristão (paganismo e cristianismo são, segundo o simbolismo da cruz, fenômenos frontalmente opostos) recebeu o nome de gnosticismo.
Inicialmente um conjunto de seitas esotérico-religiosas variadas, o gnosticismo tinha como traço comum o ódio ao cristiansmo e a nostalgia pela religião e tradição greco-romana. Tal reação se mostra presente em boa parte da cultura ocidental desde a época do Renascimento.
Com o fim do Império Romano, o cristianismo espalha-se numa Europa politicamente fragmentada e socialmente instável, cuja único poder sólido era a Igreja Católica. Ela paira acima dos senhores feudais, principados e reinos que com muita dificuldade duram algumas gerações. A ideia imperial, porém, não morreu com o Império Romano do Ocidente, e a própria Igreja começou a alentar a ideia de criar um império europeu cristão, mas inspirado no romano, em parte para retirar de si própria a carga de cuidar dos assuntos seculares, em parte pelo fascínio mesmo da ideia imperial. E essa ideia continua a ser como que uma constante na cultura ocidental.
Essa ideia tem, marcadamente, quatro grandes momentos: o Império de Carlos Magno; o Sacro Império Romano Germânico; os impérios coloniais surgidos a partir dos Descobrimentos; e o império leigo, primeiro napoleônico e depois americano.
O Império Carolíngio parecia ter concretizado o ideal da Igreja de criar um império europeu cristão, mas ele não sobreviveu à morte do imperador. O Sacro Império mostrou-se uma farsa rocambulesca, com constantes atritos entre o imperador e o Papa. A emergência dos Estados nacionais, o surgimento dos impérios coloniais por volta do final do século XV e a Reforma Protestante (Henrique VIII da Inglaterra tem um papel preponderante nesse sentido), destroem a Cristandade e junto com ela o projeto de império europeu cristão. A partir daí cada soberano reclama para si próprio o papel de braço armado do cristianismo e a missão de “dilatar a Fé e o Império”. Se conseguem cristianizar extensas áreas das Américas, da Ásia e da África, o fazem por meio de muitas violências e nem sempre educando na sã doutrina. Isso para não mencionar o fato de que todos esses impérios não conseguem, apesar de tudo, serem autênticos sucessores do Império Romano.
Mais tarde, com o Iluminismo e a Revolução Francesa, o projeto de império cristão morre, sendo substituído pelo do império leigo: o sucessor do Império Romano não poderia ter vínculos religiosos, devendo ser puramente secular e fundado nas bases materialistas do racionalismo. Entra em cena a figura de Napoleão Bonaparte, que tenta concretizar este intento mas fracassa por ter tentado criar um Império leigo com a estrutura do Antigo Regime. A religião perde grande força no quadro do império leigo.
Já a partir do Renascimento o sentido da vida vai se afastando do cristianismo e isso dá origem a duas correntes de pensamento: a naturalista e a historicista, cuja oposição dá a tônica de boa parte da história cultural da modernidade, dando origem a o que o filósofo, num lance de criação literária, chama respectivamente de “culto dos deuses do espaço” e “culto dos deuses do tempo”.
O “culto aos deuses do espaço” consiste na como que redivinização da natureza a partir das especulações de Nicolau de Cusa que, tentando aplicar ao estudo da natureza os métodos usados para a especulação teológica e tentando matematizar toda a realidade, começa a ver o cosmos como que um ente divino quase que incognoscível.
Mais interessante ainda é, a meu ver, o “culto do deuses do tempo”, com a perversão do buscava dar mais concretude ao acontecer humano, o historicismo desaguou na progressiva entronização da História como agente do acontecer social, relegando os homens concretos a um plano secundário. Sim, com Hegel, o principal responsável por esta concepção, a História humana é mais do que a história de algo ou de alguém, mas sim um sujeito com personalidade própria e independente da humanidade. Daí nasce a ideologia do progresso, segundo a qual a História vive num progresso constante e predeterminado para todos os povos, porém desigual, existindo povos “avançados” e “atrasados”. Esse pensamento é alimento das correntes políticas de esquerda, mas parte da direita acaba por ter parte com ela também.
Tudo isso colaborou bastante para o advento do império americano, o sucessor do império napoleônico no intuito de erguer um império ocidental que fosse sucessor do Império Romano mas, desta vez, sem ter qualquer compromisso religioso e nem qualquer vínculo com as aristocracias hereditárias. Isso, segundo Olavo de Carvalho, só pode nascer por ser os EUA o que são: uma república imperial, capitalista, maçônica e protestante. O que significa isso?
Sendo uma república, a ideia imperial passa a independentizar-se da figura de um imperador autocrata. Na tradicional mentalidade europeia, isso era inconcebível. Sendo capitalista (ou, ao menso, bem mais capitalista do que qualquer país europeu), os interesses privados tinham nos EUA muito mais força do que no Velho Continente, ainda aferrado a elementos feudais e tradicionalistas. Esse forte setor privado tinha força para influir pesadamente nos rumos da política nacional e, não raro, preferia a expansão comercial às intervenções militares no exterior. Maçônica, pois a elite governante dos EUA, desde a Independência, era quase toda composta de membros da maçonaria. A maçonaria exercia aí o papel de casta sacerdotal, moldando o imaginário e os valores profundos desta elite. E protestante, por ser um país composto, em sua esmagadora maioria, por protestantes desde os tempos coloniais. Mas o caso americano se diferenciava do europeu devido ao fato que que lá não havia uma igreja única a dominar no país (como a Igreja Anglicana na Inglaterra ou a Igreja Luterana da Suécia no reino dos Sveas), mas sim um pluralismo denominacional que levou como solução contra possíveis problemas nas relações entre igrejas e o Estado a absoluta neutralidade deste em relação àquelas e, por conseguinte, o Estado americano estava completamente livre de se pautar por qualquer concepção religiosa. O filósofo vê aí a relação entre a expansão mundial da ideologia da Revolução Americana pelo mundo (democracia, capitalismo, lei e ordem, Estado Laico, etc.) com a concomitante expansão do ateísmo pelo mundo.
Claro que tal fenômeno não poderia deixar de provocar certas reações: parte do antiamericanismo no mundo islâmico está nesse contexto, como também a de religiosos em outras partes do mundo. E, seguindo uma emenda ou correção feita há não muito tempo pelo próprio autor a esta análise, há o poderoso movimento conservador americano (pouco conhecido por Carvalho na altura em que redigia o livro), que busca salvar os valores cristãos de maioria da população norte-americana da forte onda secularista contemporânea. Não é possível, ao menos para mim, não ver relação entre este ponto e outro, mais recentemente elaborado pelo autor, sobre os três esquemas de poder globalista que disputam entre si a hegemonia no mundo: o islâmico, o russo-chinês e o ocidental.
O ciclo de palestras no MASP insere-se nesse quadro; os intelectuais de esquerda brasileiros, ao promoverem o materialismo e a politizaão da vida, colocam-se como servidores da Revolução Americana.
Cabe aqui falar em algo como um “antídoto” para o problema do império? Difícil fazer prescrições. Inútil brandir aqui bandeiras como “economia de mercado”, “democracia política”, “direitos humanos”, “transparência”, “justiça social” ou outros chavões abundantes nas discussões públicas, que muitos tomam como se de panacéias se tratassem. O único a fazer aqui é restaurar o sentido cristão da vida: a vida humana é breve, frágil e orientada para Deus. Somos estrangeiros nesta Terra e nossa morada é o Céu. Só a alma obediente antes a Deus do que a qualquer (sim, QUALQUER) poder deste mundo pode santificar-se e cumprir satisfatoriamente seu destino. E MAIS NADA.
Uma das várias virtudes que vejo neste livro são os diversos temas que ele abre para que o leitor empreenda suas próprias pesquisas: a figura do império, a influência da Maçonaria na política e na cultura ocidental modernas, o ateísmo comparado, o crescimento do segredo na sociedade democrática, naturalismo e historicismo, a história da Inquisição, história da Ética no pensamento ocidental, afinidades entre Karl Marx e Epicuro, importância das técnicas de manipulação mental, comparação entre a metafísica de Hegel e a cosmologia de Gurdjieff, etc.
Bem, excedi-me demais no tempo devido, mas não me foi possível ser mais breve. Muito obrigado!
Fábio V. Barreto